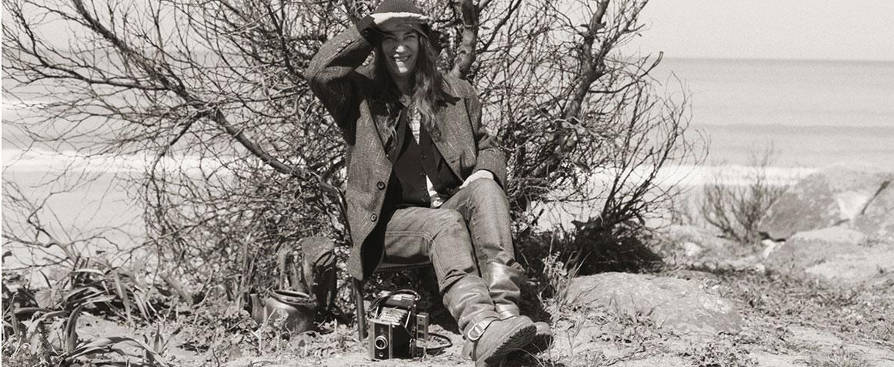Um ensaio sobre a cegueira e a cegonha
por Bianca Elias –
A curadoria que pensa unir, na mesma sessão, um stop motion engraçadinho à ficção surreal e a um drama familiar deve ter seus nós muito bem amarrados para tal arranjo. Na Mostra Brasil 4, a intersecção dos curtas-metragens exibidos acontece de maneira singela e com alguma quebra de linearidade que avisa o desafio da seleção.
De maneira geral, a sessão passa por um lugar desconhecido, mas que vem ganhando espaço na realização brasileira. Um cinema de gênero, guiado pelo hibridismo entre o suspense e o terror, que aprimora seu conceito narrativo pela tensão atingida por meio da não evidência, do não mostrar. Filmes maturados na ausência de história direta e manifesta, que abrangem o mistério e a dualidade das ações nas sensações do espectador, ou que, em terreno diegético, desconhecem os personagens sobre seus próprios percursos. Ainda, o julgamento de suspense travado neste tipo de produção encontra abrigo no referencial internacional, deslocando ao mesmo tempo em que encontrando um eixo particular do cinema brasileiro.
Cloro, dirigido por Marcelo Grabowsky, estreia seu primeiro plano com um feixe de luz que aparenta vir do olhar da protagonista para o sol. No entanto a adolescente Clara, vivida por Ana Vitória Bastos, não procura um lugar ao sol; já o tem todo para si. A repercussão da vida ociosa na beira da piscina de uma mansão no Rio de Janeiro é gerada através de acessos de raiva, sonhos eróticos com o empregado negro e a nascente de um desejo da morte do pai. O curta se desenvolve pelo progresso das pistas que levam à imaginação do que se trata o final, mas os diálogos insistem em esconder o que é que de fato acontece na vida da família. Sabemos apenas das demonstrações inconscientes de Clara que, não podendo ter nada, pode ter tudo. Fundamentado em uma ficção de ordem familiar, Cloro carrega elementos tropicais tal como o sol, a manga e o corcovado, mas definitivamente não se funda na realidade brasileira, e muito menos na realidade da família brasileira.
Estátua, no mesmo limite, atinge seu percurso de começo meio e fim por uma mise en scène operadora da duplicidade do observador e do observado. Entre o voyeurismo encarnado pela câmera distante e a parcialidade da câmera próxima sincronizada com o som da respiração e o coração batendo forte, a diretora Gabriela Amaral Almeida situa um suspense dentro de uma locação com apenas dois personagens centrais – Isabel, uma babá grávida, e Joana, uma menina quieta e aparentemente aborrecida com tudo. Também em voga o abandono familiar, não há aqui esconderijo para possíveis entrelinhas de trama: são apenas duas as suspeitas pelo desconforto em cena, embora o desfecho seja um bocado inesperado. Alinhado com o fantasioso, Estátua opera um thriller despreocupado em contextualizar a vida lá fora e tampouco interessado em falar propriamente do sentimento infantil de desamparo e solidão paternal/maternal. O que de fato procura são dinâmicas para a exaltação do inseguro, com isso propondo a exploração dos ângulos, dos jogos corporais e das alterações graduais na relação entre a babá e a menina.
Permanecendo no campo da decupagem que vai ao encontro com a situação em tela, Vento Virado, de Leonardo Cata Preta, encarna a busca para a gênese por meio do movimento de contrastes. O caminhar no escuro e o encontro no claro montam uma busca por identidade e a posterior rejeição das raízes naturais de um homem que com seus 40 anos. Uma simbiose de gêneros que se encanta pelo mistério e a apropriação do lugar nenhum apresenta sua forma assinalada por contrastes de luz e de enquadramentos por vezes tortos, cegos e estáticos em fotografia. O estado de limbo dos cômodos escuros, a apropriação da mulher negra, da reza, e dos penduricalhos quase curandeiros insere um teor espiritual ao filme que fazem sentido apenas no âmbito “homem branco procurando suas origens”, já que o personagem está mais para galã americano. A questão da origem, do não mostrar e do não falar é cara na medida em que não há desenvolvimento da ligação entre o homem e esses elementos tão distantes à sua ordem natural. Evidente que o elo encontrado de cada um com cada qual é sempre pessoal e talvez a particularidade dos elementos seja de esfera absolutamente autoral, mas a injeção da matéria parece forçada a discutir uma ancestralidade que não necessariamente faz parte de todos nós.
A reminiscência de um cinema autoral, que vai do nonsense, passando pelo terror e a comédia, categoriza a produção mais recente de Lucas Sá, Nua por Dentro do Couro. Para além do que possivelmente fala da relação entre condôminos de um mesmo edifício, a escancarada tentativa de se criar um estilo abrasileirado da violência urbana e irônica é funcional quando não sabota nossas verdades nos diálogos, em hábitos e nos costumes de se relacionar. Antes de tudo, a sujeição ao padrão, digamos, comercial de cinema, impede uma submissão aos próprios códigos desse universo. Do cupcake à música pop, os padrões na realidade apenas mostram-se como padrões do imaginário real. Depois e mais uma vez, a opção de não revelar segredos que ninguém sabe, ajudam o filme a se inserir nesse modelo de realização pautado apenas pela instigação da descoberta.
Mas o que vem então, a ser Fuga Animada, de Augusto Roque, nesse mar de produções, algumas mais bem sucedidas que outras, de ligar o holofote para o mistério em desenvolvimento? A quebra do peso, talvez. Uma animação que move a criatura e o criador em uma disputa constante traz consigo a reflexão do que é real em vida e do que é real em tela. Justamente, nas produções na sessão Mostra Brasil 4, abdica-se de certa verossimilhança real em prol da ficção que não busca o estado efetivo e concreto das coisas, mas sim a consolidação de um movimento revigorante para o híbrido thriller/suspense brasileiro. O ensaio é sobre a cegueira de um cinema ainda em surgimento, nascendo, se descobrindo no escuro e trabalhando através das evidências e, sem culpa, referências externas a nós.
Clique aqui e confira a programação dos filmes da Mostra Brasil 4 no Festival de Curtas 2014