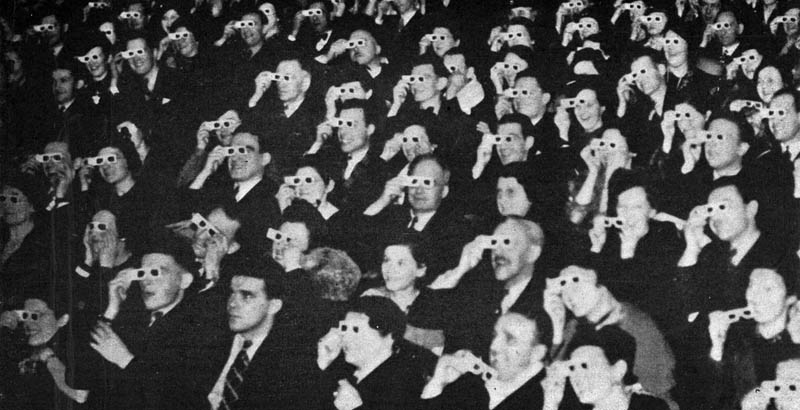por Mylena Santos Dantas –
Sons e ruídos de aparelhos eletrônicos. Movimentos e ações repetitivas e contínuas. O universo tecnológico imerso em quatro paredes. Ciclo, de Raquel Sancinetti, é uma animação que revela a solidão das relações humanas em uma sociedade extremamente tecnológica e consumista.
A construção e a estética do cenário – aparentemente uma sala de um apartamento ou de uma casa – é composta de uma colorização em tons escuros e por um ponto de luz que vai de encontro às personagens, sendo atribuída à luz de um aparelho de televisão. Esta estética mais “escura” evidencia o modo de viver vazio e monótono das personagens. Seus figurinos são sóbrios, acompanhando as características do ambiente.
Um homem e uma mulher; um casal. Separados a dois palmos de distância no sofá de sua sala, não exercem nem ao menos algum contato físico. Personagens que convivem no mesmo ambiente, separados por barreiras que os transformam, praticamente, em desconhecidos. Estas barreiras estão espalhadas por todo o ambiente: diversos aparelhos eletrônicos estão dispostos pelo cenário e constituem também o papel de personagens da narrativa.
Homem e mulher vivem em mundos paralelos, em sua rotina diária, cada qual interagindo com seus gadgets, que são trocados em algumas mudanças de cenas, revelando a diversidade de possibilidades que existem no universo tecnológico. A feição do homem é neutra, demonstrando frieza e indiferença à sua realidade, desempenhando suas ações de forma automática. A mulher tenta, em vão, chamar a atenção de seu parceiro; não sendo correspondida, se junta a ele às suas atividades rotineiras. São seres robotizados em função da tecnologia.
Assim como os eletrônicos, eles precisam que sua “bateria” (oxigênio) seja reposta e esse procedimento é feito da mesma forma que em seus aparelhos eletrônicos. A metáfora da “bateria” pode estar relacionada a nós, seres humanos, personagens do mundo real contemporâneo que também precisamos que nossa “bateria seja recarregada”, recarregada pelas novas tendências tecnológicas, estando sempre atualizados nas redes sociais e nos últimos lançamentos do mercado capitalista. Outro fator importante na composição do curta é o som, fundamental e responsável por fazer a ambientação dos aparelhos eletrônicos nas cenas, atribuindo-lhes características, além de evidenciar as ações contínuas das personagens.
Fazendo um paralelo ao tema abordado em Ciclo cito aqui a animação IDiots produzida pela Big Lazy Robot. Nela há características da metalinguagem: os personagens principais são robôs (ou seja, frutos da criação tecnológica) que são viciados em tecnologia, mais propriamente, nos gadgets. Os robôs podem ser comparados aos dois personagens da história aqui analisada, pois ambos usam a tecnologia como uma necessidade vital. Esta, por sua vez em Ciclo, é notada nas personagens sendo “recarregadas”, ligadas à tomada; em IDiots, quando os robôs começam a perder a conexão com seus aparelhos, e acabam voltando às suas atividades, abatidos, como se tivessem perdido sua “força”. Outro paralelo que pode ser estabelecido é a característica “robotizada” das personagens, ambos com a mesma simbologia de seres automatizados, mecânicos, programados.
Ciclo e IDiots possuem o mesmo caráter discursivo: a crítica ao consumo exacerbado da tecnologia, a maneira como ela está totalmente presente e inserida em nosso cotidiano, se tornando um costume, uma necessidade. Raquel Sancinetti, em uma produção inteiramente sua, exerce uma crítica ao mundo consumista e a decadência das relações interpessoais, do diálogo, do contato físico e visual. O elemento “robotizado” é mais uma crítica, que nos assemelha a um objeto, a uma máquina que desempenha funções totalmente automatizadas e mecânicas, necessitando ser sempre “recarregada” através da tecnologia.
Ciclo está na mostra Panorama Paulista 3 e Infanto-Juvenil 1. Clique aqui e veja a programação do filme no Festival de Curtas 2014