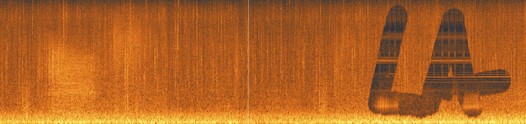por Alex Brito
Um motor em movimento, centralizado no quadro. Esse motor é exibido poeticamente, ora em planos abertos, ora fechados. Em consonância ao que é visto, em voice over ouvimos Pier Paolo Pasolini narrar uma história, sobre o dia em que deu carona a um jovem de poucas palavras. Intencionando estabelecer um diálogo com o rapaz, Pasolini o questiona sobre seus interesses, descobrindo a paixão juvenil por motores. Nesse instante, as imagens do motor, até então enigmáticas, ganham um significado. Essa é a primeira cena de Il Ragazzo Motore, de Paola Fajola, curta que abre a sessão Pelas mãos de Pasolini, uma homenagem ao centenário do nascimento do realizador-poeta italiano.
O curta acerta ao associar elementos do documentário, como os registros dos jovens relatando suas experiências, a uma decupagem expressiva e uma montagem poética. Paola nos apresenta detalhes, como o toque das mãos no guidão da moto ou as reações dos jovens, capturadas por gestos e olhares. Porém, por não aprofundar o diálogo com nenhum dos entrevistados, Il Ragazzo Motore não atinge uma camada tão imersiva quanto o curta que o sucedeu, Stendalì (Ainda Soam), de Cecília Magini.
Stendalì, cujo roteiro tem colaboração de Pasolini, apresenta uma tradição fúnebre exercida por mulheres, que buscam homenagear seus entes queridos através do canto em coro. O curta tem escolhas estilísticas valiosas, que possibilitam uma experiência marcante. A montagem frenética atravessa diretamente a intensidade das vozes, os planos próximos das mulheres revelam suas emoções, marcadas pela angústia e pela perda. As posições da câmera ao longo da obra intensificam a nossa experiência, com destaque para o momento que imprime o ponto de vista do jovem falecido no caixão.
Além da imersão proporcionada pela junção imagem-som em Stendalì, o curta tece uma crítica à desigualdade social presente na Itália de seu tempo. Ele localiza essas mulheres em Salento, no sul do país, região marcada pelo abandono das lideranças governamentais, que priorizavam fomentar a industrialização no norte italiano. A obra provoca indagações, como: esse ritual fúnebre, além de uma tradição, seria um suporte diante do desamparo imposto pelo capitalismo?
A catarse suscitada por Stendalì ganha outra roupagem em Pierpaolo, de Ivan Claudio, única obra brasileira presente na sessão. O curta também se distingue pelo seu ano de lançamento, 2021, enquanto os demais foram lançados ao longo da década de 1960. Pierpaolo é uma obra intimista, que tece uma homenagem a Pasolini. Ela não se limita a uma estrutura clássica, possuindo um fio narrativo fragmentado e inserindo trechos com falas de Pasolini e imagens de arquivos. Ivan Claudio, que também assina roteiro e produção, inspira um olhar humano e poético em relação à trajetória do diretor, com destaque ao instante em que nos apresenta o local de nascimento de Pasolini.
Complementando essa abordagem mais intimista do filme anterior, O Cinema de Pasolini (notas para um Critofilme), de Maurizio Ponzi, é metalinguístico ao compartilhar a faceta artística do realizador-poeta a partir de um relato sobre o seu pensar cinematográfico. Ninetto Davoli, ator que esteve presente em muitos filmes do diretor italiano, ilustra com ações e gestualidades comentários pertinentes feitos por Pasolini, no que concerne à construção de personagem em camadas. Um ponto destacável do relato refere-se à comparação entre cinema de prosa e cinema de poesia, que ganha uma dimensão palpável ao ter como exemplos planos de um filme do diretor. Ponzi, que foi assistente de Pasolini, evidencia a proximidade dessa relação ao expor falas poéticas e descontraídas, que não passam desapercebidas ao público.
Fechando a sessão, temos um curta dirigido por Pier Paolo Pasolini, A Ricota, que assim como o seu antecessor, também reflete sobre o fazer cinematográfico. Tendo como ambientação um set de filmagem, um diretor marxista, vivido por Orson Welles, filma a Paixão de Cristo, um tema caro à burguesia católica italiana (que diegeticamente é retratada como financiadora do filme). Pasolini, que ao longo de sua carreira criticará em sua filmografia a hipocrisia cristã assentada em costumes, retrata em seu curta a ausência de humanidade naturalizada numa sociedade desigual.
Essa posição é ilustrada nas situações vividas por Stracci, um figurante que atua como o ladrão bom, crucificado ao lado de Cristo. Na primeira aparição de Stracci, o vemos faminto e sendo zombado por seus colegas, situação recorrente. Sua humanização é destituída, condição reiterada ao se por em comparação a um cachorro no set, que tem mais respeito, além de comer a sua comida. Stracci é uma alegoria da população esquecida dessa Itália capitalista, que por meio de ações e subalternidades, busca ascender socialmente e, no mínimo, matar sua fome. De forma dramática, pecando com excesso de exposição, A Ricota exacerba a sua crítica com a morte de Stracci, “crucificado” em cena diante da burguesia que o oprimiu. Uma decisão narrativa ousada que serve de presságio à polêmica, mas virtuosa, filmografia de Pasolini.